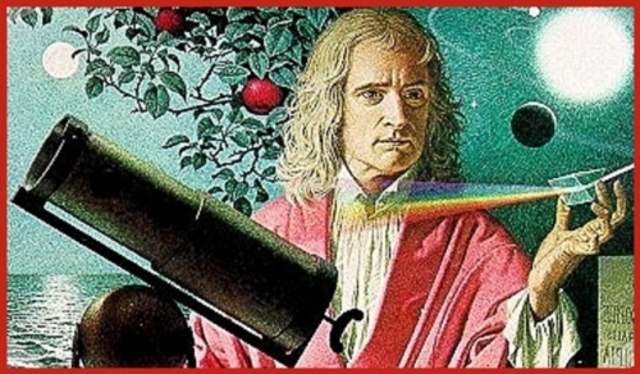Por Alenka Zupančič, via European Journal of Psychoanalysis, traduzido por Ramon Frias.
Muitas discussões filosóficas recentes têm sido marcadas, de uma forma ou de outra, pelo impressionante relançamento da questão do realismo, desencadeada pelo livro de Quentin Meillassoux Après la finitude (2006), e seguida por um mais abrangente, apesar de menos homogêneo, movimento de ‘realismo especulativo’. De fato, parece que estamos testemunhando um reavivamento poderoso da questão do realismo, com novas conceituações ou definições deste último, bem como de seu adversário (‘correlacionismo’ no lugar de nominalismo). Eu proponho tomar essa oportunidade para levantar a questão de se esse debate concerne ou não ao campo conceitual da psicanálise lacaniana, e, caso sim, como. Com o Real sendo um dos conceitos centrais da teoria Lacaniana, a questão emerge quanto ao status desse Real, especialmente desde que Lacan o relaciona ao impossível. No que poderia esse deveras estranho realismo que identifica o Real com o impossível resultar?
Através de um rápido mapeamento geral do espaço dessa discussão, deixe-me apenas bem brevemente retomar o argumento básico de Meillassoux. Este consiste em mostrar como a filosofia pós-cartesiana (começando com Kant) rejeitou ou desqualificou a possibilidade de termos qualquer acesso ao ser fora de sua correlação ao pensamento. Não apenas nunca estamos lidando com um objeto em si mesmo, separadamente de sua relação com o sujeito, como também não há sujeito que não esteja sempre-já numa relação com um objeto. A relação assim precede qualquer objeto ou sujeito, a relação é anterior aos termos que relaciona, e se torna ela mesma o objeto principal da investigação filosófica. Filosofias contemporâneas (pós-cartesianas) são todas diferentes filosofias da correlação. Como Meillassoux coloca:
“Em termos gerais, o básico do filósofo moderno consiste nessa crença na primazia da relação frente aos termos relacionados; uma crença no poder constitutivo da relação recíproca. O ‘co-‘ (de co-determinação, de co-relação, de co-originário, de co-presença, etc.), é a partícula gramatical que domina a filosofia moderna, sua verdadeira ‘fórmula química’. Assim, poderia se dizer que até Kant, um dos problemas principais da filosofia era pensar a substância, enquanto que desde depois de Kant, ela tem consistido na tentativa de pensar a correlação. Anterior ao advento do transcendentalismo, uma das questões que dividiram filósofos rivais mais decisivamente foi ‘quem apreende a verdadeira natureza da substância? Aquele que pensa a Ideia, o individual, o átomo, o Deus? Que Deus?’ Mas desde Kant, descobrir o que divide filósofos rivais não é mais perguntar quem apreendeu a verdadeira natureza da substancialidade, mas perguntar quem apreendeu a verdadeira natureza da correlação: seria o pensador da correlação sujeito-objeto, da correlação noética-noemática, ou da correlação linguagem-referente?” (Meillassoux 2008, pp. 5-6).
A insuficiência dessa posição é revelada, segundo Meillassoux, quando confrontada com ‘afirmações ancestrais’ ou ‘arque-fósseis’: afirmações produzidas hoje pela ciência experimental concernentes a eventos que ocorreram previamente a emergência da vida e da consciência (digamos: ‘A Terra formou-se 4.56 bilhões de anos atrás’). Elas levantam um simples e, ainda segundo Meillassoux, insolúvel problema para um correlacionista: como apreenderíamos o sentido de afirmações científicas lidando explicitamente com uma manifestação do mundo que é apresentada como anterior a emergência do pensamento e mesmo a vida – apresentada, isto é, como anterior a toda forma de relação humana com esse mundo? Do ponto de vista correlacionista essas afirmações são, estritamente falando, sem sentido.
Um dos grandes méritos do livro de Meillassoux é que este reabriu, não tanto a questão da relação entre filosofia e ciência, quanto a questão de se elas estão falando sobre o mesmo mundo. Alain Badiou levantou recentemente ou, melhor, respondeu a uma questão similar no contexto da política: ‘Só há um mundo’. Mas essa questão é também pertinente à questão da relação da epistemologia, ou da ciência, com a ontologia. Pode parecer, de fato, como se a ciência e a filosofia tenham se desenvolvido já por algum tempo em mundos paralelos: em uma é possível falar do real em si mesmo, independentemente de sua relação com o sujeito, enquanto que na outra esse tipo de discurso é estritamente falando sem sentido. Logo, o que teríamos se aplicássemos o axioma ‘só há um mundo’ a essa situação? Ao invés de tomar – no lado da filosofia – o caminho mais comum, criticar a ciência por sua falta de reflexão sobre seu próprio discurso, Meillassoux toma outro caminho: o fato de que certas afirmações científicas escapam do ‘horizonte de sentido’ da filosofia indica que tem algo de errado com esta. Isto indica que, para assegurar sua própria sobrevivência como prática discursiva (poderia se dizer também: para assegurar a continuação da metafísica por outros meios) ela tem sacrificado demasiado, nomeadamente, o real em seu sentido absoluto.
Poderia-se talvez ressaltar, não obstante, que esse caminho menos comum está se tornando um tipo de tendência na filosofia contemporânea, e Meillassoux a compartilha com vários autores, bem diferentes em suas inspirações. Deixe-nos apenas mencionar Catherine Malabou e seu materialismo filosófico, que almeja desenvolver uma nova teoria da subjetividade baseada em ciências cognitivas. Em sua polêmica com a psicanálise freudiana e lacaniana, ela opõe ao ‘inconsciente libidinal’, como sempre-já discursivamente mediado, o ‘inconsciente cerebral’ (a auto-afecção do cérebro) como o inconsciente verdadeiro, materialista. [1] No entanto, se o materialismo de Malabou move-se na direção de uma ‘naturalização do discursivo’ ou, mais precisamente, se isso representa uma tentativa de reduzir a distância entre o orgânico e o sujeito na direção de encontrar as causas orgânicas do sujeito, [2] Meillassoux toma o mesmo caminho na direção oposta, a saber, o da discursividade da natureza, apesar de não fazê-lo até as ultimas consequências. Sua ontologia realista, diferenciando entre qualidades primárias e secundárias do ser, não alega que o ser é inerentemente matemático; alega que é absoluto, que é independente de qualquer relação com o sujeito, apesar de somente no seguimento em que pode ser formulado matematicamente. Meillassoux, dessa forma, preserva uma certa distância ou salto (entre o ser e sua matematização), sem endereçá-lo. A possibilidade de certas qualidades serem formuladas matematicamente é a garantia de seu caráter absoluto (de seu ser real no sentido forte do termo). O realismo de Meillassoux é, assim, não um realismo dos universais, mas – paradoxalmente – um realismo do correlato dos universais, que ele também chama o referente:
“Em termos gerais, as afirmações são ideias na medida em que sua realidade possui significação. Mas seus referentes, da parte deles, não são necessariamente ideais (o gato no tapete é real, apesar da afirmativa ‘o gato está no tapete’ ser ideal). Nesse exemplo particular seria necessário especificar: os referentes das afirmações sobre datas, volumes etc., existiram 4.56 bilhões de anos atrás, como descrito por essas afirmações – mas não essas afirmações em si mesmas, que são contemporâneas a nós.” (Meillassoux 2008, p. 12).
Parece não haver alternativa ao fato de que o critério do absoluto é nada além de sua correlação com a matemática. Não que isso implique algo necessariamente subjetivo ou subjetivamente mediado, mas certamente implica algo discursivo. E aqui chegamos ao problema central das conceitualizações de Meillassoux, que é ao mesmo tempo o mais interessante sobre elas. Eu enfatizo isso em oposição à outra dimensão do seu gesto, uma dimensão entusiasticamente abraçada pelo nosso zeitgeist, mesmo que tenha pouco valor filosófico (ou científico), e que é baseada em associações livres relacionadas a alguns sentimentos mais ou menos obscuros do presente Unbehagen in der Kultur. Chamemos isso de sua dimensão psicológica, que pode ser resumida pela seguinte história: depois de Descartes nós perdemos o grande Lá-Fora, o fora absoluto, o Real, e nos tornamos prisioneiros de nossa própria jaula discursiva ou subjetiva. O único fora com que estamos lidando é o fora posto ou constituído por nós mesmos ou pelas diferentes práticas discursivas. E há um desconforto crescente, uma claustrofobia nesse emprisionamento, essa constante obsessão com nós mesmos, essa impossibilidade de nunca sair do dentro exterior que nós assim construímos. Há também um desconforto político que é posto em cena aqui, aquele sentimento de frustrante impotência, da impossibilidade de realmente mudar algo, de mergulhar em pequenos e grandes desapontamentos da recente e não tão recente história. Eis aí um certo charme adicional redentor de um projeto que promete novamente liberar-nos nesse grande Lá-Fora, para reinstituir o Real em sua dimensão absoluta, e para embasar ontologicamente a possibilidade de mudança radical.
Deveria-se insistir, no entanto, que o aspecto crucial de Meillassoux reside inteiramente em outro lugar do que nessa história que encontrou nele (talvez não de todo sem sua cumplicidade) o suporte de uma certa fantasia, a saber, e precisamente, a fantasia do ‘grande Lá-Fora’ que nos salvará – do que, finalmente? Desse pequeno, porém irritante pedaço do fora que opera, aqui e agora, persistentemente incomodando, prevenindo qualquer tipo de ‘jaula discursiva’ de tranquilamente fechar-se sobre si mesma. Em outras palavras, dizer que o grande Lá-Fora é uma fantasia não implica que seja uma fantasia de um Real que não existe realmente; mas, implica que é uma fantasia no sentido psicanalítico estrito: uma tela que encobre o fato de que a realidade discursiva é em si mesma vazada, contraditória, e emaranhada com o Real como seu irredutível outro lado. Isso é dizer: o grande Lá-Fora é a fantasia que encobre o Real que já está bem aqui.
O cerne do projeto de Meillassoux não consiste em opor o real ao discursivo, e no sonho da libertação além do discursivo; ao contrário, o cerne de seu projeto é sua junta articulação, a qual escaparia à lógica da constituição transcendental e dessa forma de sua co-dependência. Essa junta articulação baseia-se em duas alegações fundamentais: a já mencionada tese sobre a possível matematização de qualidades primárias, e a tese sobre a absoluta necessidade do contingente. Desnecessário falar que ambas as teses são filosóficas, e almejam assentar as fundações para o que a ciência moderna parece simplesmentte pressupor, a saber, e precisamente, uma articulação compartilhada do discursivo e do real. Pareceria assim que elas tentariam ajustar o realismo ingênuo da ciência, substituindo-o por um realismo ‘especulativo’ reflexivo, filosoficamente fundamentado.
Ainda sim, a primeira questão realmente interessante já aparece aqui, nomeadamente: qual é, de fato, o status do realismo que as operações científicas pressupõem? Seria simplesmente uma forma de realismo ingênuo, uma franca crença de que a natureza que descreve é absoluta e existe lá fora independentemente de nós? A pressuposição inaugural de Meillassoux de fato parece ser que a ciência opera na direção correta, mas que todavia carece de sua própria teoria ontológica que corresponderia à sua práxis. Considerando a estrutura de seu projeto, é de fato um tanto impressionante quão pouco tempo Meillassoux devota à discussão da ciência moderna, seu gesto inaugural ou fundamental, suas pressuposições e consequências – isto é, à discussão do que a ciência está realmente fazendo. Contrário a isso, podemos dizer que Lacan possui uma extraordinariamente bem elaborada teoria da ciência moderna e de seu gesto inaugural (em certo ponto, essa teoria é parte de uma teoria estruturalista mais abrangente da ciência), relativamente a qual ele situa seu próprio discurso psicanalítico. E isso é de onde se precisa começar. O relacionamento entre o discurso psicanalítico e a ciência é uma questão crucial para Lacan por toda sua obra, apesar de nada simples. Por, de um lado, pressupor seu absoluto parentesco e co-temporalidade (marcada por incontáveis enunciações como ‘o sujeito do inconsciente é o sujeito da ciência moderna’, ‘a psicanálise só é possível após a mesma ruptura que inaugura a ciência moderna’ …). Do outro lado, também há a não menos notável diferença e dissonância entre a psicanálise e a ciência, com o conceito de verdade como o seu mais saliente marcador, que envolve a diferença em seus respectivos ‘objetos’. Em suma: o terreno comum partilhado pela psicanálise e a ciência é nada mais que o real em sua dimensão absoluta, mas elas têm diferentes maneiras de perseguir esse real.
Qual é a teoria lacaniana de ciência? No contexto de um debate similar e fiando-se em Jean-Claude Milner, essa questão tem sido recentemente reaberta, e dada toda a sua significância, por Lorenzo Chiesa,[3] a quem eu devo essa entrada na discussão. De acordo com essa teoria, o Galileanismo substituiu a antiga noção de natureza com a noção moderna de acordo com a qual a natureza é nada mais do que o objeto empírico da ciência. A precondição formal dessa mudança reside na completa matematização da ciência. Em outras palavras, depois de Galileu, ‘a natureza não possui qualquer outra substância sensível além da necessária ao funcionamento correto das fórmulas matemáticas da ciência.’ [4] Colocado de forma ainda mais forte: a revolução na ciência Galileana consiste em produzir seu objeto (‘natureza’) como seu próprio correlato objetivo. Em Lacan encontramos toda uma série dessas enunciações bem fortes, por exemplo: ‘energia não é uma substância …, é uma constante numérica que um físico tem que encontrar em seus cálculos, para estar apto a trabalhar´.[5] O fato de que a ciência fala sobre essa ou aquela lei da natureza e sobre o universo não quer dizer que ela preserve a perspectiva do grande Lá-Fora (como não discursivamente constituído de alguma forma); ao contrário, o oposto é o caso. A ciência moderna começa quando produz seu objeto. Isso não é para ser entendido no sentido Kantiano de constituição transcendental de fenômenos, mas num sentido mais forte e ligeiramente diferente.
A ciência moderna literalmente cria um novo real(idade); não é que o objeto da ciência seja ‘mediado’ por suas fórmulas, ele é indistiguível delas; ele não existe fora delas, mas ainda sim é real. Isso tem consequências reais ou consequências no real. Mais precisamente: o novo real que emerge com a revolução científica Galileana (a completa matematização da ciência) é um real no qual – e isto é decisivo – o discurso (científico) tem consequências. Tais como, por exemplo, aterrissar na lua. Assim, o fato de que esse discurso tem consequências no real não é válido para a natureza no sentido amplo e frouxo da palavra, só é válido para a natureza como física ou a natureza física. Mas, claro, sempre há, diz Lacan,
“o argumento realista. Não podemos resistir a idéia de que a natureza está sempre lá, seja se lá estamos ou não, nós e nossa ciência, como se a ciência fosse de fato nossa e não fôssemos determinados por ela. Claro que não disputarei isso. A natureza está lá. Mas o que a distingue da física é que vale a pena dizer algo sobre física, e esse discurso tem consequências nesta, enquanto que todos sabem que nenhum discurso tem qualquer consequência na natureza, o que é o porquê de tendermos a amá-la tanto. Ser um filósofo da natureza nunca foi considerado como uma prova de materialismo, nem de qualidade científica” (Lacan 2006a, p. 33).
Três coisas são cruciais nessa densa e decisiva citação. 1) o desvio do acento de um estudo discursivo do real para as consequências do discurso no real; relacionado a este 2) a definição da realidade recém emergida, e 3) o problema do materialismo. Deixemo-nos primeiro parar brevemente nesse terceiro ponto, que nós já tocamos de passagem com a questão do ‘cérebro inconsciente’. Está em jogo uma dimensão chave de uma possível definição de materialismo, que poderia ser formulada como segue: o materialismo não é garantido por nenhuma matéria. Não é a referência à matéria como a substância última da qual tudo emerge (e que, nessa perspectiva conceitual, é com frequência altamente espiritualizada), que nos leva ao verdadeiro materialismo. O verdadeiro materialismo, que – como Lacan o coloca com uma franqueza impressionante em outra passagem significante – pode apenas ser um materialismo dialético, [6] não é fundamentado na primazia da matéria nem na matéria como primeiro princípio, mas na noção de conflito, de divisão, e na da ‘paralaxe do real’ produzida nele. Em outras palavras, o axioma fundamental do materialismo não é ‘a matéria é tudo’ ou ‘a matéria é primária’, mas relaciona-se antes a primazia de um corte. E, claro, isso não é sem consequências para o tipo de realismo que pertence a esse materialismo.
Isso nos leva aos pontos 1) e 2) da citação acima, que podemos tomá-las juntas desde que referem-se a dois aspectos desse novo realismo ‘dialeticamente materialista’. A distinção entre natureza e física estabelecida por Lacan não segue a lógica de distinguir a natureza como coisa inacessível em si e a física como natureza transcendentalmente estruturada, acessível ao nosso conhecimento. A tese é diferente e de algum modo mais radical. A ciência moderna, que é, no fim das contas, um evento historicamente atribuível, cria um novo espaço do real ou o real como uma nova dimensão do espaço (‘natural’). A Física não ‘cobre’ a natureza (ou a reduplica simbolicamente), mas é adicionada a ela, com a natureza continuando a ficar lá onde sempre esteve. ‘A Física não é algo se extendendo, como a deusa de Deus, por toda a natureza’.[7] A natureza continua lá não como um Real em si mesmo impenetrável, mas como o Imaginário, que podemos ver, gostar e amar, mas que é, ao mesmo tempo, um tanto irrelevante. Tem uma história divertida, de alguns amigos de Hegel que o arrastaram até os Alpes, para que ele conhecesse e admirasse a beleza deslumbrante da natureza dali. Tudo que Hegel disse sobre o sublime espetáculo que foi revelado a ele nos é relatado como tendo sido: Es ist so. Lacan teria adorado isso. Es ist so, nada mais a falar sobre as montanhas. Não é porque não podemos de fato entendê-las, mas porque não há nada para entender (se dissermos que a pedra que vemos é dessa ou daquela era, estamos falando sobre outra realidade – uma em que consequências de discurso existem).
A definição de Lacan dessa diferença é de fato extremamente concisa e precisa. O que está em jogo não é que a natureza como objeto científico (isto é, como física) seja um efeito de discurso, sua consequência – e que, nesse sentido, a física não exatamente lida com o real, mas somente com suas próprias construções. O que está em jogo antes é que o discurso da ciência cria, abre um espaço no qual esse discurso tem consequências (reais). E isto está longe de ser a mesma coisa. Estamos lidando com algo que mais literalmente, e de dentro, divide o mundo em dois.
O fato de que o discurso da ciência cria, abre um espaço no qual esse discurso tem consequências (reais), também significa que ele pode produzir algo que não apenas se torna parte da realidade, mas que também pode mudá-la. ‘O discurso científico foi capaz de propiciar a aterrissagem na lua, onde o pensamento se torna testemunha de uma erupção de um real, e com a matemática usando nenhum aparato além de uma forma de linguagem’.[8] À isso Lacan acrescenta que a supracitada erupção de um real aconteceu ‘sem o filosófo se importar com isso’. Talvez possamos ver nessa observação uma problematização de um certo aspecto da filosofia moderna, que tende a perder uma dimensão crucial da ciência precisamente nesse ponto do real, e mantem-se reduzindo-a à lógica da ‘razão instrumental’, ‘tecnicismo’, e assim por diante. Poderíamos também ver nisso uma pista do casamento contemporâneo da filosofia com o ‘discurso universtário’, a definição mínima da qual seria precisamente: o laço social no qual o discurso não tem consequências.
Retornando ao ponto inicial dessa digressão: em consideração a questão do realismo em ciência, o diagnóstico de Lacan poderia ser resumido da seguinte maneira. Apesar de que possa ser que o realismo ingênuo constitua a ideologia espontânea de muitos cientistas, isto é totalmente irrelevante para a constituição do discurso científico, sua eficiência e seu modo de operação. Como já vimos, isto significa: a ciência moderna não chegou ao caráter absoluto de seu referente confiando nas pressuposições do realismo ingênuo, isto é, assumindo ingênuamente a existência de seu referente ‘na natureza’, mas ao reduzi-lo a uma letra, que sozinha abre o espaço de reais consequências do discurso (científico). E a palavra ‘reduzindo’ não é para ser tomada no sentido de reduzir a riqueza das qualidades sensíveis a um mínimo absoluto, nem um mínimo em que estaríamos lidando com a continuação da mesma substância; ela deveria ser tomada no sentido de um corte, e de uma substituição. O que está em jogo também não é a lógica clássica da representação: a letra não representa algum aspecto da natureza sensível, mas literalmente a substitui. Ela a substitui com algo que pertence ao discurso (ao semblante), mas ainda algo que pode ser – precisamente porque pertence ao discurso – formulado na direção do real. O que nos traz novamente ao ponto formulado anteriormente: ‘não vale a pena falar sobre qualquer coisa além do real em que o discurso em si mesmo tem consequências’ [9]. Esse não é um argumento sobre o real ser apenas o efeito do discurso. A ligação entre a discursividade e o real (que é, no fim das contas, também o que Meillassoux ataca em sua polêmica com o obscurantismo contemporâneo [10]) encontra aqui uma fundação muito mais firme do que no caso de simplesmente afirmar que o referente (um ‘objeto natural’) está absolutamente, e somente, em seu aspecto matematizável. Meillassoux não vê a matematização da ciência como um corte na realidade que (somente) produz a dimensão do real, mas o ponto mais longíncuo de um continuum, de um contínuo aprimoramento dos caminhos em que os cientistas falam sobre a realidade; no caso dele, o real refere-se ao seguimento puramente formal/ formalizável de uma coisa que permanece no final da rede dessa aprimorada forma de discurso científico. Vamos lembrar: “… os referentes das afirmações sobre datas, volumes etc, existiram 4.56 bilhões de anos atrás, como descrito por essas afirmações – mas não essas afirmações em si, que são contemporâneas a nós”. O caráter ideal de uma fórmula científica apanha em sua rede, aqui e agora, um fragmento da coisa que é em si mesma absoluta (isto é dizer que existiu como tal e independentemente dessa rede 4.5 bilhões de anos atrás). Ou, posto de outra forma: o real é aquela porção de uma substância que não desliza pela rede da ciência matematizável, mas que permanece presa nela. A metáfora de Lacan, e com ela toda sua perspectiva, é um tanto diferente a esse respeito: o real não é garantido pela consistência dos números (ou letras), mas pelo impossível, ou seja, pelo limite de sua consistência. Isto é o porquê da ciência não operar apanhando em sua rede o real como um objeto absoluto, mas antes tocando o real através das coincidências dos furos em sua rede e os furos na realidade. Se não vale a pena falar sobre o real ou a Natureza fora do discurso, a razão é que nós necessariamente ficamos no nível do semblante, o que significa que podemos dizer o que quisermos. O real, do outro lado, é indicado pelo fato de que nem tudo é possível. Aqui entra o outro componente crucial do real lacaniano, vinculando o realismo das consequências à modalidade do impossível. Juntos eles poderiam ser articulados como segue: algo tem consequências se ela não pode ser nada (isto é, se ela é impossível em um de seus próprios seguimentos).
A articulação, e eu quero dizer articulação algébrica, do semblante – que, como tal, só envolve letras – e seus efeitos, este é o único aparato pelo qual nós designamos o que é real. O que é real é o que faz/constitui um furo [fait trou] nesse semblante, nesse semblante articulado que é o discurso científico. O discurso científico avança sem ao menos se preocupar se é um semblante ou não. O que está em jogo é simplesmente que seu sistema, sua rede, sua lattice, como se diz, faz os furos certos aparecerem no lugar certo. Ele não tem outra referencia além do impossível ao qual suas deduções chegam. O impossível é o real. Em física só miramos em algo que é o real através de um aparato discursivo, na medida em que o último, em seu próprio rigor, encontra os limites da consistência.
‘mas o que nteressa a nós, é o campo da verdade’. (Lacan 2006b, p. 28)
O ponto absolutamente crucial desse ‘realismo psicanalítico’ é que o real não é uma substância ou ser, mas precisamente seu limite. Isso é dizer, o real é aquilo que a ontologia tradicional teve que cortar para ser capaz de falar do ‘ser enquanto ser’. Só chegamos no ser enquanto ser subtraindo algo dele – e esse algo é precisamente o ‘furo’ que lhe falta a fim de que seja totalmente constituído como ser; a zona do real é o intervalo no interior do próprio ser, através do qual nenhum ser é ‘ser enquanto ser’, mas que só pode ser sendo algo diferente do que é. Poderia-se perguntar, claro, como pode importar se alguém corta fora algo que já não estava lá? Isso importa muito não só porque ele se torna algo quando ele é cortado fora, mas também uma vez que o algo que ele se torna é o objeto mesmo da psicanálise.
A fim de situar isso em relação a discussão prévia, poderíamos dizer: a curvatura no espaço que constitui a dimensão do real tem uma causa, e uma consequência. Sua causa é a emergência de um puro significante, e sua consequência é a emergência de um novo tipo de objeto. Mas isto também é dizer que não há algo como um significante puro, porque quanto mais puro, ou quanto mais claro é seu corte, mais palpável e irredutível – ou simplesmente real – é o objeto que produz. Essa, por exemplo, é a lição fundamental da noção psicanalítica de Verneinung, negação.
O curto ensaio de Freud com esse título é um de seus mais interessantes e complexos; lida com um significante por excelência, ‘não’, ou negação. E se, como Freud teria dito uma vez, ‘às vezes, um charuto é só um charuto’, a questão desse artigo é que ‘não’ nunca é apenas ‘não’, e que o quanto mais instrumental for seu uso (isto é, quanto mais ele funciona com um puro significante), mais provável é que outra coisa se prenda a ele. O exemplo mais famoso de Freud é, claro: “você pergunta quem essa pessoa no sonho pode ser. Não é minha mãe [Die Mutter is es nicht]”. Nesse caso, acrescenta Freud, a questão está resolvida, podemos ter certeza que de fato é ela. Mas, o que se torna mais e mais óbvio enquanto seguimos mais adiante o argumento de Freud, é que o que é introduzido por essa negação é precisamente outra coisa além da alternativa: ‘é minha mãe/ não é minha mãe’. Então, deixe-nos tomá-lo passo a passo. Sem ter sido perguntado quem interpretou o papel em seu sonho, o paciente se adianta e oferece a palavra mãe, acompanhada pela negação. É como se ele tivesse que dizê-lo, mas ao mesmo tempo não pudesse, é imperativo e impossível ao mesmo tempo. O resultado é que a palavra é proferida como negada, a repressão co-existe com a coisa conscientemente falada. O primeiro erro a evitar aqui é ler isto em termos do que a pessoa realmente viu no seu sonho e, aí, por causa de uma censura consciente, mentiu no relato que deu ao analista. Pois – e isso é crucial não apenas ao entendimento da Verneinung, mas também do inconsciente freudiano enquanto tal – o que é inconsciente no caso em questão é, primeiramente e acima de tudo, a censura, e não simplesmente seu objeto, ‘mãe’. A última está interiamente presente na afirmativa, e é introduzida pelo próprio sujeito, que poderia não tê-la mencionado de todo. O inconsciente gruda-se aqui na própria distorção (a negação), e não está escondido no que o sujeito suspostamente viu em seu sonho. Poderia muito bem ser que outra pessoa, conhecida ou desconhecida, de fato apareceu no sonho, no entanto a história do inconsciente que é do interesse da psicanálise começa com esse ‘não é minha mãe’ que aparece no relato do sonho. Mas as coisas tornam-se ainda mais interessantes, pois Freud segue dizendo que muito embora na análise possamos levar essa pessoa a suprimir o ‘não’ e aceitar o (conteúdo do) reprimido, ‘o processo repressivo em si mesmo ainda não é removido através disso’ [11]. A repressão, os sintomas persistem após o analisando ter tomado consciência do reprimido, o que também poderia ser formulado como segue: nós podemos aceitar o conteúdo (reprimido), eliminá-lo, mas não podemos eliminar a estrutura da hiância, ou fissura que a gera. Poderíamos também alegar que o que o paciente queria dizer é precisamente o que ele disse: isto é, nem que foi alguma outra pessoa além da mãe, nem que foi a mãe, mas que foi a não-mãe ou a mãe-não.
Uma piada excelente do Ninotchka de Ernest Lubitsch pode nos ajudar aqui a ter uma noção melhor do singular objeto ‘não-mãe’ de que estamos falando.
Um cara entra num restaurante e diz ao garçom: ‘café sem creme, por favor’. O garçom responde: ‘desculpe-me senhor, mas estamos sem creme. Poderia ser sem leite?’
Essa piada carrega um certo real, mesmo uma certa verdade sobre o real, que tem a ver precisamente com a negatividade singular introduzida ou descoberta pela psicanálise. Uma negação de algo não é pura ausência ou puro nada, ou simplesmente o complementar daquilo que nega. No momento em que ela é falada, lá permanece um traço daquilo que ela não é. Essa é uma dimensão introduzida (e tornada possível) pelo significante, no entanto irredutível a ele. Este tem (ou pode ter) uma qualidade positiva, apesar de espectral, que pode ser formulada nos termos precisos de ‘com sem (creme)’ como irredutível a ambas alternativas (creme/ não creme).
Quando mãe, dessa forma, aparece nessa composição singular com a negação, isto é, quando ela aparece como ‘não-mãe’, parece como se ambos os termos irredimivelmente contaminassem um ao outro. Como se o ‘não’ marcasse a mãe com o selo do desejo inconsciente (‘como o made in Germany selado no objeto”, como freud o coloca), e ‘mãe’ não menos contaminasse a pureza formal da negação com – como algumas vezes lemos na embalagem de certos tipos de comida – alguns ‘traços de elementos’. Mas devemos ser ainda mais precisos e dizer que a mãe com que começamos (logo antes da negação atingí-la) não é a mesma que o objeto-mãe produzido através dessa negação, por via do trabalho do inconsciente. É outra mãe, uma mãe – por que não colocá-lo dessa forma? – com consequências, não uma mãe como um elemento da Natureza. O que é precisamente a razão pela qual admitir ao analista que era sua mãe, no fim das contas, não ajuda no mínimo, e o porque de apesar dessa admissão a essência da repressão persistir. Pois o que obtemos nesse caminho não é de qualquer uso a nós, refere-se somente a mãe como algo factual, como um ‘elemento da natureza’, e não nos traz nem um pouco mais próximos da dimensão do real.
Isso nos traz de volta ao cerne da nossa discussão, à questão do realismo e do real que a psicanálise partilha com a ciência, e isto é como poderia se resumir o principal ponto dessa discussão. Se o sujeito do inconsciente é o sujeito da ciência (moderna), é precisamente na medida em que é essencialmente ligado ao campo no qual o discurso tem consequências. Sem o último não há sujeito e, certamente, nenhum sujeito do inconsciente. Isto é como deveria-se entender a afirmativa lacaniana de que o sujeito é a ‘resposta do real’, la réponse du réel. O que é algo além do que dizer que é um efeito do discurso ou discursivamente constituído. O sujeito, ou o inconsciente, não são efeitos de linguagem, entidades linguísticas deixadas a sós, eles pertencem ao campo do real, isto é, ao campo que apenas emerge com a linguagem, mas que não são em si mesmo linguagem, nem redutíveis a ela (digamos, como sua criação performativa); o real é definido pelo fato de que a linguagem tem consequências nele. E poderíamos talvez dizer: se a ciência cria e opera no campo onde o discurso tem consequências, a psicanálise é a ciência desse campo singular, das surpreendentes maneiras pelas quais essas consequências funcionam, e do peculiar status ontológico dos objetos desse campo.
Não seria apropriado, todavia, concluir sem aceitar o desafio da questão inicial de Meillassoux em sua estimável franqueza e simplicidade. Isto é: o que o realismo lacaniano das consequências, combinado com o impossível, implica ao status das ditas afirmações ancestrais? A afirmação ‘a Terra foi formada 4.5 bilhões de anos atrás’ faz algum sentido independentemente de nós, isto é: refere-se a um objeto específico que de fato (embora de acordo com nossa forma de contagem e baseado em datação radiométrica) existiu há 4.5 bilhões de anos atrás?
Por que não nos aventurarmos a uma resposta? Para formulá-la, farei uso de uma história fascinante, que gira precisamente em torno de fósseis e que – se tomada em sua dimensão especulativa – pode dar à noção de arque-fóssil um bastante intrigante toque lacaniano. Em seu livro, Meillassoux de fato, em algum ponto, alude a essa história – mas isto permanece uma alusão totalmente superficial, servindo apenas como um argumento retórico para caçoar dos absurdos com que o correlacionismo pareceria ser compatível, e perde inteiramente o verdadeiro potencial especulativo da história em questão.
Em um de seus esplêndidos ensaios, intitulado ‘O umbigo de Adam’ (‘Adam’s Navel’), Stephen Jay Gould chama nossa atenção à uma das mais impressionantes, ‘ridículas’ e todavia extremamente elegantes teorias sugeridas pelo importante naturalista britânico Philip Henry Goss [12]. Goss foi contemporâneo de Darwin e publicou o trabalho que nos interessa (Omphalos) em 1857, que é apenas dois anos antes da Origem das Espécies de Darwin. Ele foi um naturalista apaixonadíssimo, e uma de suas grandes paixões eram os fósseis, que ele estudou e descreveu com particular devoção. Naquele tempo a ciência nascente da Geologia já havia reunido evidências da enorme antiguidade da Terra, o que contradisse francamente sua idade de acordo com o Genesis (6.000 anos). E esse foi o principal dilema de Goss – já que ele não era apenas um naturalista dedicado, mas também um homem profundamente religioso. O cerne de sua teoria consistia, assim, em uma tentativa de resolver a contradição entre a (relativamente recente) criação ab nihilo, e a existência real de fósseis de uma idade muito mais respeitável. Ele chegou a uma teoria bastante engenhosa de acordo com a qual Deus de fato criou a Terra por volta de 6000 anos atrás, mas ele não a criou apenas para o tempo por vir, para o futuro, mas também retroativamente, ‘para o passado’ – no momento da criação da Terra ele também pôs os fósseis nela. Deveria-se atentar à beleza desse gesto de modéstia. Deus cria o mundo apagando os traços de sua criação, e, consequentemente, de sua própria existência, para o benefício da exploração científica. E, provavelmente, não é nenhuma coincidência que o mundo teológico rejeitou essa teoria bem mais apaixonadamente que o mundo científico. Imediatamente, apareceu o consenso de que Deus não poderia ter ‘escrito nas pedras uma enorme e supérflua mentira’. De acordo com Gould, criacionistas americanos modernos também, sobretudo e veementemente, rejeitam essa teoria por ‘imputar um caráter moral dúbio a Deus’.
O interesse da teoria de Goss para nossa discussão consiste, acima de tudo, em apontar a insuficiência de uma simples teoria linear do tempo a respeito da questão do real. Também, a aparência de bizarrice que envolve a teoria de Goss não deveria nos cegar ao fato de que, estruturalmente falando, o seu dilema é exatamente o de Meillassoux. Basta substituir a criação de Deus pela criação humana (natureza como subjetivamente/discursivamente constituída), e temos uma questão impressionantemente similar: a ciência estuda somente algo que nós mesmos constituímos como tal, postulado (como externo), ou seria esta exterioridade independente de nós e teria existido exatamente como é bem antes de nós? A resposta lacaniana seria: ela é independente, mas só se torna tal no momento mesmo da ‘criação’. Isto é dizer: com a emergência – ex nihilo, por que não? – do puro significante e com isso da realidade na qual o discurso tem consequências, nós temos uma realidade física independente de nós mesmos. (O que, para ser exato, não é dizer que não temos qualquer influência nela). E claro, essa independência é também ganha para o tempo ‘antes de nós’. A realidade dos arque-fósseis ou dos objetos das afirmações ancestrais não é diferente da realidade dos objetos contemporâneos a nós – e isso é porque nem a antiga nem a última são correlatas do nosso pensamento, mas são, ao invés, correlatos objetivos da emergência de uma ruptura na realidade como um contínuo homogêneo (o que é precisamente a ruptura da ciência moderna, bem como a ruptura da emergência do significante enquanto tal). Esta é a razão mesma porque a teoria de Lacan é ‘dialética-materialista’: a ruptura implica nada além de uma identidade especulativa do absoluto e do devir. Eles não são opostos, mas precisam ser pensados juntamente. Algo pode (no tempo) tornar-se absoluto (isto é, atemporal). O absoluto é, ao mesmo tempo, necessário e contingente: não há absoluto sem uma ruptura na qual este seja constituído como absoluto (isso é dizer como ‘necessariamente necessário’ – enquanto esse redobramento é precisamente o espaço em que o discurso tem consequências), ainda sim essa ruptura é contingente.
Contrariamente a isso, o gesto de Meillassoux de absolutizar a contingência como a única necessidade sucumbe, em última análise, não à especulatividade, mas ao idealismo: tudo é contingente, tudo exceto a necessidade dessa contingência. Ao afirmar isto, Meillassoux, de fato, absolutiza a causa ausente (a causa que, se presente, fundamentaria a necessidade das leis tais como são). Seu argumento a esse respeito é bem conhecido: não há nenhuma causa maior em relação a qual as leis naturais são tais como elas são, nenhuma necessidade maior. Assim, elas podem mudar a qualquer momento – contingencialmente, sem nenhuma razão, o que seria dizer ex nihilo (ele não recua dessa noção aqui). Mas podemos ver o que acontece aqui: temos uma estrutura ateísta que nada pode sem a absolutização da Causa ausente que dessa forma garante a contingência de todas as leis. Lidamos com algo como um ‘Deus dos ateístas’, um Deus garantindo que não há Deus. Na concepção que estamos elaborando aqui com a ajuda de Lacan, a configuração é diferente. O ateísmo lacaniano pode apenas ser o ateísmo da ausência de (qualquer) garantia ou, mais precisamente, a ausência de uma garantia externa ou uma meta-garantia: a garantia é incluída, é parte daquilo que ela garante. Não há garantia independente, o que não é dizer que não há garantia (ou que não há ‘absoluto’). É nisto que a noção de não-todo, enquanto diferente da noção de exceção constitutiva, mira: que aquilo que pode refutar um teoria discursiva, e confirmar outra, advém do interior do campo discursivo (na ciência, isto significa que um experimento confirma ou desqualifica uma certa configuração teórica no interior da estrutura em que esta ocorre; um experimento pode apenas confirmar ou refutar uma teoria ao ser performado em território próprio a ela; não há nada simplesmente fora da teoria com o qual a última possa ser medida. Ao invés da lógica da exceção e do meta-nível que totaliza algum ‘todo’ (tudo é contingente, exceto a necessidade dessa contingência), estamos, deste modo, lidando com a lógica do não-todo. O axioma de Lacan, que poderia ser lido como ‘o necessário é o não-todo’ não absolutiza a contigência, mas a posiciona como o ponto de verdade da necessidade absoluta ao tornar-se tal (em algum ponto no tempo).
E ao fim, isso também nos traz ao mais importante ponto de diferença que, não obstante, existe entre psicanálise e ciência, e que Lacan sempre relaciona a questão da verdade. Em poucas palavras: o que a ciência não vê, ou do que nada quer saber, é o fato de que uma das consequências do discurso é também a dimensão da verdade. A verdade como uma dimensão objetiva do discurso. Não a verdade sobre uma dada configuração, mas a verdade como um elemento irredutível dessa configuração, como um sub-produto essencial da clivagem da imanência que faz da última não-toda, isso é dizer, que a faz incluir dentro de si mesma seu próprio critério de real. Como elemento de uma dada configuração – isto é, como elemento do real – a verdade só pode falar em primeira pessoa – que é de onde a ideia de Lacan da prosopopéia da verdade vem: ’Eu, a verdade, estou falando’. E na medida em que esse campo da verdade é o que interessa a psicanálise, este é o ponto onde outra história começa, outro capítulo do seu realismo, e onde uma certa distância a respeito da ciência aparece. Não seria de todo errado chamar essa distância de política, pois com a dimensão da verdade entra necessariamente a dimensão do conflito. [13]
[1] Malabou 2007.
[2] O que é o porque de Slavoj Žižek estar certo em apontar que o custo desse tipo de materialismo poder muito bem ser uma re-espiritualização da matéria (vide Žižek 2010, p. 303). Desnecessário dizer, no entanto, que a nossa breve referência a Malabou aqui falha em fazer justiça a seu argumento em sua totalidade, bem como a alguns pontos de grande valor que ela faz apresentando-o.
[3] Chiesa 2010, pp. 159-177.
[4] Milner 2008, pp. 287-288.
[5] Lacan 1990, p. 18.
[6] ‘ Se sou alguma coisa, é claro que não sou um nominalista. Digo que meu ponto de partida não é que o nome seja algo que se finque, assim, no real. E deve-se escolher. Se somos nominalistas, devemos renunciar completamente ao materialismo dialético, de modo que, em suma, a tradição nominalista, o que estritamente falando é o único perigo de idealismo que pode ocorrer num discurso como o meu, é um tanto obviamente descartada. Não se trata aqui de ser realista no sentido de que se era na Idade Média, isto é, no sentido do realismo dos universais; o que está em jogo é marcar o fato de que nosso discurso, nosso discurso científico, só encontra o real de que depende no funcionamento do semblante’ (Lacan 2006a, p. 28).
[7] Ibid., p. 34.
[8] Lacan 1990, p. 36.
[9] Lacan 2006a, p. 31.
[10] Seu argumento a esse respeito é o de que a filosofia correlacionista, precisamente desde que alega que não podemos saber nada sobre as coisas em si mesmas, força-nos a admitir, ao menos como possível, até o non-sense mais obscurantista e irracional dito sobre as coisas em si mesmas.
[11] Freud (1925h), p. 236.
[12] Gould 1985.
[13] Ver Lacan 2006a, p. 38.
Bibliografia
Chiesa, L. (2010) ‘A Necessidade de Contingência do Hiperestruturalismo’ (‘Hyperstructuralism’s Necessity of Contingency’), in S: Journal of the Jan van Eyck Circle for Lacanian Ideology Critique, 3.
Freud, S. (1925h), ‘A Negação’ (‘Negation’), in SE, 19.
Gould, S. J. (1985) ‘O umbigo de Adam’ (‘Adam’s Navel’), in Flamingo’s Smile (Harmondsworth: Penguin Books).
Lacan, J.:
– (1990) Televisão (Television. A Challenge to the Psychoanalytic Establishement) (New York & London: Norton & Company).
– (2006a) Le séminaire, livre XVI. D’un autre à l’Autre (Paris: Seuil).
– (2006b) Le séminaire, livre XVIII. D’un discours qui ne serait pas du semblant (Paris: Seuil).
Malabou, C., (2007) Les nouveaux blessés (Paris: Bayard).
Meillassoux, Q. (2008) After Finitude (London: Continuum).
Milner, J.-C. (2008) Le périple structural (Lagrasse: Verdier).
Žižek, S. (2010) Vivendo no fim dos tempos (Living in the End Times) (London & New York: Verso).