Por Germano Molardi
Recentemente, a Boitempo publicou em seu blog um texto de Christian Dunker, intitulado “Por uma esquerda que não odeie o dinheiro”, em que a principal conclusão é a de que “enquanto não inventarmos uma nova maneira de fazer circular o dinheiro sem que ele seja um pecado laico entre nós, será difícil ganhar eleições, se apresentar publicamente sem ser percebido como hipócrita ou arrogante, e recuperar a nossa capacidade coletiva de sonhar”. Começo a réplica desse texto pela sua conclusão pela mesma razão pela qual Marx dá início à sua principal obra, O capital, tratando da mercadoria: ela é a representação das relações sociais de produção e reprodução capitalistas e portanto, cristaliza em si, de diversas formas, a síntese dessas relações. A mercadoria, entretanto, é destituída de sua feição abstrata no decorrer do desenvolvimento de sua crítica da economia política – absorve em torno de si outras categorias, como o valor de uso, o valor de troca, bem como a categoria valor. Assim, a conclusão “dunkeriana” é consequência de uma “metafísica militante”; em outras palavras, é resultado necessário de premissas completamente equivocadas sobre quais são as principais tarefas atinentes à organização do proletariado. O presente artigo pretende debater esses equívocos, tecendo-lhes críticas adequadas, partindo da preocupação bastante contemporânea de eliminar respostas simples, fórmulas e receitas que, ao fim e ao cabo, restam mais prejudiciais do que benéficas.
A consequência desse desenvolvimento ontológico da principal obra marxiana (que também é a síntese e a expressão da maturidade teórica do comunista alemão) é a sua desembocadura no terreno da produção – Marx quer destituir a mercadoria do fetichismo – resultante da alienação e do estranhamento – tipicamente capitalistas, razão pela qual essa categoria conclui o primeiro capítulo. O dinheiro, inscrito nas relações sociais capitalistas, é absorvido pelo novo modo de produção suprassumindo as próprias condições de existência anteriores, na medida em que as trocas simples ganham nova complexidade, assumindo as formas descritas já no capítulo 3 d’O Capital. Existem desdobramentos contemporâneos das descrições que Marx faz das formas assumidas pelo dinheiro no capitalismo, sobre as quais falaremos mais a frente. Na medida em que inscrito na economia-política, esse segundo complexo da organização do ser social (a política) não é destituído de importância. Ao contrário, se consubstancia aos desenvolvimentos da economia e assume características muito particulares determinadas por e determinantes dessa. A criação de blocos econômicos organizados em distintos continentes do planeta, por exemplo, são elementos políticos que não podem ser ignorados em quaisquer discussões sobre a forma-dinheiro, porque oriundos da mundialização do capital, de seu processo de monopolização, enfim, da divisão internacional do trabalho.
O debate de Dunker, teoricamente pobre, não inscreve o dinheiro nas relações capitalistas. De encontro a isso, inclusive, seu palavrório (típico da “metafísica militante” que adora apontar os problemas da esquerda com base em suas experiências epifenomênicas de intelectual sem vinculá-la a um processo de trabalho, a uma práxis militante) reitera o fetichismo da mercadoria (inclusive da mercadoria-dinheiro) e o leva a aspectos demasiadamente prejudiciais a qualquer debate sobre a organização política do proletariado. Não crio casuísmos ao trabalhar do debate organizativo partindo da crua e historicamente comprovada importância de uma vanguarda, consciente não só do que fazer, mas fundamentalmente de como. Para isso, entretanto, é importante partir do que temos. E o que temos é profundamente diverso do cenário defendido como existente pelo USP-lacaniano que a Boitempo insiste em se associar, a despeito do caráter nocivo de seus escritos ao movimento comunista do qual a editora julga fazer parte. Saíamos daqui para analisar o texto propriamente dito, portanto.
O fordismo como prisão histórica das esquerdas
Nas universidades em que já estive (a saber, UFRGS e UFSM), muitas vezes me deparei com vendedores ambulantes que, em lugares de maior circulação no campus – Restaurante e Hospital Universitário, principalmente -, dispõe mercadorias artesanais para a venda, objetivando a própria subsistência. Na frente do HUSM, em Santa Maria por exemplo, era e ainda é comum as bancas com pastéis e outros produtos; na escadaria que dá acesso ao Campus do Vale, campi da UFRGS próximo a Viamão, também se estabeleceram alguns comerciantes informais que disponibilizam lanches à comunidade acadêmica com preços mais baratos do que aqueles dispostos pelos bares existentes dentro da Universidade, formalmente reconhecidos como exploradores dos locais postos em disputa em editais.
A mentalidade pequeno-burguesa não mergulha profundamente no que vê, porque não compreende o que vê como parte de uma totalidade complexa e contínua. Enxerga de maneira mecânica um fenômeno isolado e atribui a ele a importância digna de maravilhamento – é uma auto-enganação, de caráter fetichista, que confunde as coisas. A ação de uma empresa-júnior, por exemplo, com a colocação de um estande para obter recursos em troca de uma propaganda que absorve a extensão universitária e a encobre por uma defesa liberal e meritocrática de adequação acrítica ao mercado de trabalho é profundamente diversa da ação de moradores das imediações dos campi ou de estudantes de baixa renda que, sob outras circunstâncias(que não se adequando à condição de trabalho informal), precisariam abdicar da titulação acadêmica que, em última instância, no Brasil, não é garantia de muita coisa – é possível que você vire um “intelectual” preso à nuvem da prepotência acadêmica, com aval para escrever qualquer groselha em blogs de esquerda. Dunker precisa ler o capítulo 3 d’O Capital. Enfim, nos coloquemos no exercício de tergiversar o motivo do subtítulo.
As nossas Universidades sofreram uma reforma profunda na Ditadura Militar e não se adequaram ao processo de reconfiguração produtiva que, segundo Giovanni Alves, autor também publicado pela Boitempo, só assume um caráter sistêmico no Brasil a partir da década de 1990, quando extrapola o setor automobilístico e se incorpora a outros setores da economia. Ironicamente, a década subsequente à consolidação da nova Constituição é uma demonstração clara de que o pacto das elites que permitiu a existência de artigos, parágrafos e incisos no novo código jurídico geral que atendiam às demandas populares não era transigente, do ponto de vista econômico, a essas demandas. Assim, a modernização do capitalismo brasileiro e a intensificação do seu vínculo orgânico ao capital monopolista e imperialista iam, desde a gênese da nova Carta Magna, de encontro a realização desta. E as consequências mais drásticas disso são vistas hoje, depois da falência da ilusão democrática de que o projeto democrático-popular constituiu força hegemônica. Como é próprio do direito, tão reivindicado por forças de esquerda ainda atrelados à estratégia supracitada, esse não paira sob a organização social da produção regulando-o independentemente da luta de classes. Sua efetivação ou desefetivação, assim, depende fundamentalmente da correlação de forças entre as classes e suas frações em distintas quadras históricas. Se não conseguimos atingir com profundidade as mudanças requeridas em conquistas in juri, de fato não é pelo espírito maligno das classes dominantes, mas pelo avanço do capital monopolista e pelo declínio do poder de organização do proletariado que atinge as esquerdas concomitantemente a esse processo. Ignorando tal fato, fica fácil assumir o dinheiro, para se prender ao exemplo de Dunker, como ponto de partida da práxis militante, em vez de ponto de chegada que, uma vez atingido, é dotado de contradições muito profundas que ensejam organizações muito bem disciplinadas e conscientes de suas tarefas históricas. Eis a confusão de Dunker: ao assumir que não conhece economia, defende-se atrás de sua falsa humildade sem se responsabilizar pelos prejuízos que causa ao publicizar juízos de valor sobre coisas que, na teoria e na prática, desconhece.
Às distintas organizações de esquerda, mais ou menos presas aos pressupostos e resultados da estratégia democrática e popular, restaram as posturas de defender a manutenção do que foi formalmente conquistado, sem se questionar de maneira crítica, verdadeira, acerca da efetivação de tais conquistas na realidade da economia política brasileira desde os anos finais da década de 1980. Prendeu-se ao padrão rígido de organização fordista do trabalho, que associa sucesso a uma carreira estável, casa e carro próprio e famílias de dois filhos e é isso que tais esquerdas reivindicam (vale lembrar a campanha de Haddad em 2018 – “uma carteira de trabalho numa mão e um livro na outra”), sem perceberem (e falo na terceira pessoal do plural porque não me identifico) que o trabalho ideológico das classes dominantes só tem concretude porque se fundamenta numa práxis tão estranhada e alienada quanto a sua própria ideologia. Em outras palavras, reivindicar o padrão fordista de organização do trabalho é anacrônico e destituído de sentido para uma classe que, a despeito do direito de caráter fordista, precisa trabalhar sob quaisquer condições para permanecer vivendo. Qual é o problema, então?
Quando se fala em trabalho de base, tem a ver com a justa preocupação que se apresenta de trabalhar com a classe certas compreensões da realidade – que do ponto de vista marxista, é sintetizar as contradições intrínsecas ao capital no sentido da superação dessa forma de organização social da produção e reprodução da vida coletiva. Ou seja, esse “trabalho” objetiva tirar os membros da classe trabalhadora da condição de objetos da história (objeto dos ordenamentos do capital e sua dinâmica, das teleologias capitalistas) e transformá-los em sujeitos da transformação dessa realidade, a partir do entendimento do que ela significa: trabalho de base significa, justamente, o desenvolvimento da consciência de classe – a transformação da classe em si em classe para si. Mas a consciência de classe não é um elemento que existe a despeito da prática de classe. Pode-se ensinar um trabalhador acerca dos malefícios do machismo e da misoginia perante as mulheres, mas se a sua prática perante a sua companheira não corresponder ao seu aprendizado, o aprendizado não vale de nada. E com isso, não se quer responsabilizar singularmente o trabalhador que divulga em suas redes sociais o próprio acordo com o feminismo classista enquanto mantém a própria companheira sob certas rédeas do patriarcado (por mais equivocado que isso seja), mas dizer que a resolução dessas contradições são mais profundas do que a prática individual pode prover.
Não é com base no utopismo de Owen, de Fourier e outros antecessores de Marx e Engels que se quer instrumentalizar a consolidação de alternativas à sociedade do dinheiro. Entretanto, eles oferecem estímulos práticos que devem servir de inspiração ao estabelecimento das nossas tarefas, principalmente quando pensamos nas estruturas que temos para articulá-las.
Os problemas organizativos da nossa classe
Durante o trabalho de dissertação no qual estou implicado, tenho me irritado com o uso de certas categorias que um representante da OAB faz ao desempenhar o papel de presidente do Conselho de Comunicação Social. O membro do CCS em questão se utiliza do “centralismo democrático” para se referir às decisões que toma por conta própria, a despeito do debate no pleno, no sentido da realização de certas tarefas atinentes à função que ocupa – geralmente funções burocráticas. Numa compreensão democratista, o conselheiro condena toda uma tradição de debates organizativos que atravessa o século XX (chegando muito próximo de feri-la de morte, como faz Dunker ao associar suas elucubrações confusas a Marx), utilizando-a de forma equivocada – postura que se deve combater. Da mesma forma, o debate sobre finanças no âmbito da militância não deve assumir as características defendidas pelas ideias “dunkerianas”. E o trabalho financeiro verdadeiramente revolucionário deve estar atrelado à compreensão sobre centralismo democrático que escapa do entendimento “cançado” do ex-presidente do CCS.
Desde 2016, quando me organizei politicamente, o problema da organização financeira é corrente dos debates no seio da militância. Como organizar a contribuição financeira, como garantir a cotização, como trabalhar ideologicamente os núcleos para que compreendam o papel da contribuição financeira individual. E, muito recentemente, desligado do único Partido no qual militei, articulei todos os questionamentos em formulações que propõe a resolução de tais questões, na justa medida em que os planejamentos daí decorrentes escapam da singularização do problema financeiro, que responsabiliza o militante e não a militância – e, vale reiterar, responsabilização é distinto de penalização. Por vezes, por exemplo, eu não tinha 15 ou 20 reais para contribuir no mês com o núcleo do qual fazia parte, mas se precisava comprar água para o conjunto da militância em um ato de rua, eu não me indispunha em fazê-lo e isso não era contado como cotização – daí a completa imaturidade e artesanalidade no manuseio da questão financeira.
O primeiro equívoco é dissociar o trabalho financeiro das questões mais propriamente organizativas, disciplinares, formativas, agitativas e publicistas, políticas – enfim, de todo complexo de problemas que envolve organizar o proletariado consciente de seu papel histórico. Todo militante deve estar suficientemente consciente de quais são os fins dos meios postos e o trabalho de conscientização desses meios se complexifica conforme se complexificam os fins, numa relação também contínua e dialética entre fins e meios – táticas e estratégias, projetos e suas respectivas consecuções. Eu nunca encontrei na internet qualquer matéria que fale sobre o assunto, mas tomei conhecimento de que um Partido Comunista em algum lugar do mundo controlava uma rede de restaurantes de beira de estrada, a partir da qual retirava os recursos de sua ação política. Independentemente de isso ser ou não verdade, oferece exatamente os questionamentos que Dunker não faz ao assumir com tanta facilidade o fetichismo da mercadoria como pressuposto a partir do qual enxerga as relações sociais no (seu) mundo.
É completamente distinta a ação partidária de autofinanciamento que vende jornais e cookies em uma praça durante o final de semana, do dinheiro gerido para disputar eleições num país em que, desde que as eleições “diretas” voltaram à prática democrático-burguesa, as cifras necessárias para uma disputa real crescem anualmente como cresce desde março a curva de mortos no Brasil pela pandemia do novo coronavírus. A burocracia imposta pelo TSE é assimilada distintamente por uma sigla partidária que recebe contribuições financeiras privadas do que por um partido cuja única forma de lidar com os papéis necessários ao lançamento de uma candidatura são manuseados por militantes mais ou menos próximos do Direito com maior intimidade com tais burocracias. Do mesmo modo, parece não termos aprendido nada com a Lava-Jato: se o critério dessa operação fosse o combate à corrupção, a economia política autocrático-burguesa inteira ruiria, sem a ênfase que se deu para blocos no poder destituídos da hegemonia do poder de Estado em períodos históricos concretos. Assim, é de se confiar no Estado burguês de que a operação de grandes quantias de dinheiro por um partido revolucionário não se criminalizaria através de quaisquer meios, a exemplo do que se faz continuamente com as FARC, ligando-as ao tráfico de drogas na Colômbia? Quanta ingenuidade!
Dito isso, é também o óbvio ululante (e incômodo, em certo sentido) ter de ler de um intelectual encastelado na Academia que o papel assumido por pequenos empreendedores é distinto de grandes empresários cujas articulações caminham no sentido justamente de sufocar alternativas econômicas aos seus projetos de manutenção das condições de exploração e opressão ligadas à dinâmica do capital monopolista. Contra tal novidade fajuta, entretanto, não se deve reoxigenar uma compreensão de associação a um padrão de desenvolvimento autônomo do capitalismo – sabemos onde isso desemboca desde 1964. Nosso compromisso na articulação de uma práxis militante, concretamente alternativa, deve extrapolar a mecânica relação entre esses dois projetos, fundamentando uma saída real, de caráter popular no rumo do socialismo – que não é um modo de produção, mas um regime de transição política!
Ao compreender a ação econômica como organicamente associada ao nosso método organizativo, marxista-leninista, entende-se que entre o manuseio de pequenas quantias de dinheiro e seu uso como capital há profundas distinções – que uma leitura atenta d’O Capital resolveria. Se a um Partido Comunista fosse atribuída a gestão de dinheiro como capital, isso acarretaria em responsabilidades distintamente complexas não só endógenas, mas exógenas à sua ação política, como as que citei com relação ao Estado burguês. A gestão de dinheiro que gera mais-dinheiro (o capital, produto do ciclo D-M-P-M’-D’, abstraindo o salto representado pelas operações do capital financeiro) para não corroer o que de mais fundamental estrutura um Partido Comunista, marxista-leninista, comprometido com a revolução proletária, deveria ser acompanhado de uma ação, antes de mais nada, de formação consistente de toda militância, que constituiria sua rede de trabalhadores (?), daria transparência à destinação do mais-valor, que se destinaria à ação política revolucionária e, portanto, não seria objeto de acumulação privada.
O debate econômico que se deriva desse sonho dunkeriano não é nada novo, se articula nitidamente às fantasias da “economia solidária”, que já foi objeto de dura crítica não só de Henrique Wellen, em sua tese de doutorado sobre o caráter exploratório dessa nova reorganização das cadeias de valor a que costumam os socialdemocratas chamar de “solidárias”, mas dos próprios sistematizadores da compreensão materialista-dialética da história, que criticaram no mesmo sentido a teoria proudhoniana em A miséria da filosofia! É mais fácil projetar sonhos, mundos ideais como a bela alma de Hegel (dai-me paciência!) que não correspondem ao nosso tempo histórico do que se ater aos verdadeiros desafios de superação política das condições destrutivas da concorrência capitalista, pondo-a sob o controle do proletariado, desafios e responsabilidades das quais derivam experiências que, sob o manto do “socialismo real”, essas mesmas figuras costumam desdenhar.
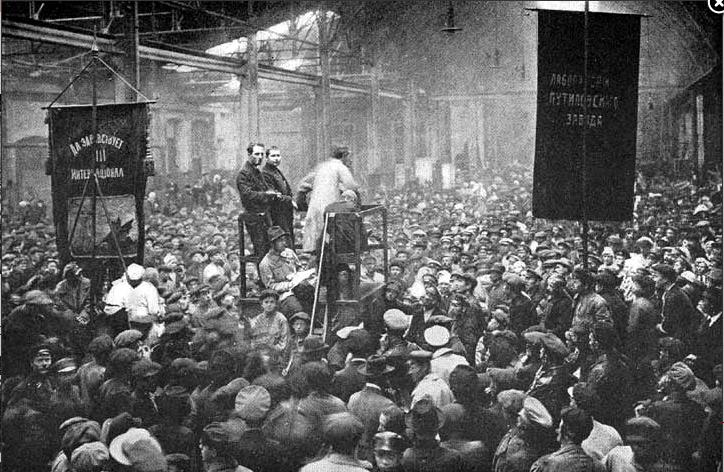
1 comentário em “Por uma esquerda que não odeie o debate organizativo”
Dunker acha que a vaquinha que ele faz com aqueles que recebem a $ das big empresas e da Fapesp é a mesma dos trocados que a senhora ganha vendendo bolo! Ha,ha, ha! Um simples exercício mental evitaria que ele falasse tal bobagem: se a senhora do bolo fizesse uma vaquinha com seus conhecidos, teria o mesmo sucesso de $ do digníssimo professor? Obviamente não! Incapaz de se deslocar de seu próprio lugar de privilégio, o comentarista popular quer lacrar a nova verdade de sua própria esquerda falida sem se mexer! Hora de cortar as cabeças que praticam ainda esse feudalismo intelectual narcísico e que nos mantém nesse buraco bárbaro.