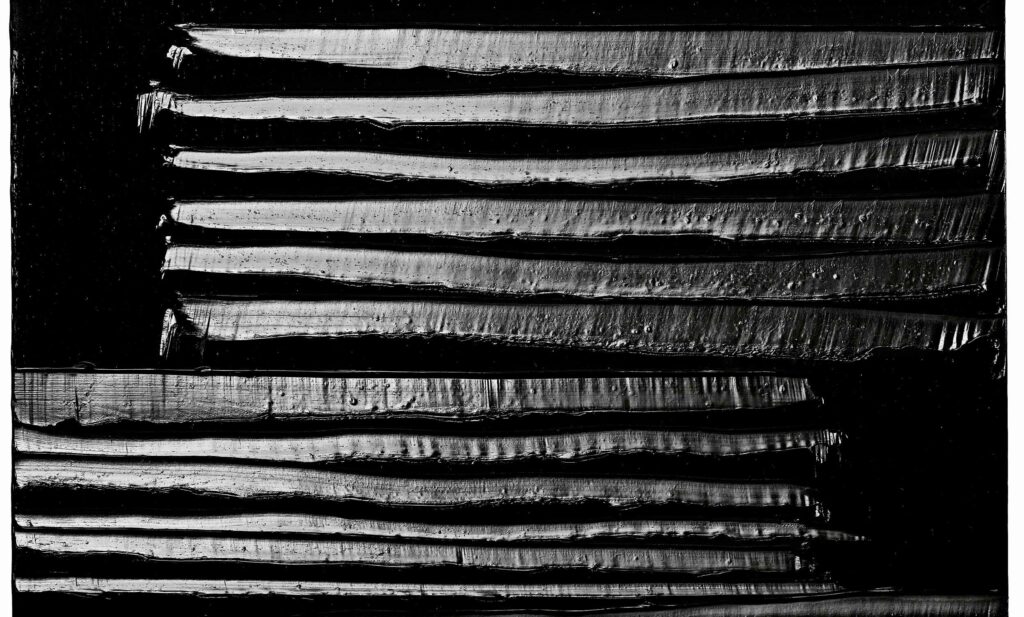Por Pepe Tesoro. Traduzido por Reginaldo Gomes.
Quatro anos após sua morte, a figura de Mark Fisher se vê ameaçada por uma situação paradoxal. Por um lado, grande parte de sua obra inspira o combate à vã nostalgia da esquerda e à mistificação inoperante de suas estratégias tradicionais, e encoraja o projeto emancipador a se reconectar com seu espírito utópico perdido e a manter seu olhar fixo no futuro. Por outro lado, a recepção e a popularidade de sua obra correm o risco de se converterem em uma elegia indefinida no tempo, um louvor vazio a essa grande figura messiânica que momentaneamente nos lembrou do que éramos capazes, mas que, como todo profeta maldito, partiu antes do tempo, nos deixando confusos e desamparados.
Curiosamente, Fisher sempre considerou as tiradas de Nick Land contra a esquerda acadêmica como um dos mais acertados diagnósticos desta condição terminal da imaginação política. Para Land, o capitalismo é sempre a última força irredutível de inovação e progresso e, portanto, o anticapitalismo se refugia na posição contraditória de pedir ao tempo que se detenha. “Daí o silogismo Miserabilista Transcendental:“, afirma Land, “o tempo está do lado do capitalismo, o capitalismo é tudo que me entristece, então o tempo deve ser mau.”[1]. Naturalmente, Nick Land concorda plenamente com o miserabilista na afirmação de que “o tempo está do lado do capitalismo”, uma reformulação se possível ontologicamente mais sinistra do clássico tatcherista “não há alternativa”. É contra esse fatalismo dogmático, contra Land e contra a esquerda miserabilista, que fundamentalmente Mark Fisher escrevia.
É por isso que Fisher afirmou que “Land é o tipo de antagonista que a esquerda necessita”, precisamente pelo caráter incisivo e implacável de suas críticas contra as escleroses da esquerda contemporânea. Mas longe de cair na teleologia apocalíptica de Land, que apenas se dedica a anunciar a dissolução do humano no interior de um capitalismo maquínico inumano e desinibido, Fisher nos lembra que os impulsos de desterritorialização do mercado vêm sempre acompanhados de impulsos opostos de reterritorialização e que, portanto, o capitalismo nunca pode perder sua face humana. “O verdadeiro futuro não tinha nada a ver com o Capital se desfazendo de sua máscara de látex para revelar a morte maquínica que havia por trás dele; era antes o contrário: New Sincerity, computadores da Apple vendidos com pop fofinho e kitsch.”[2] A tarefa da esquerda residiria precisamente em mostrar que o capitalismo não é futurista o suficiente, não é inovador o suficiente, e confinou o impulso libidinal por um mundo melhor no desejo desesperado de consumir produtos cada vez menos diferentes, exaltados pela aura enganosa de simplicidade e sinceridade do iPhone, mas incapazes de redirecionar a potencialidade da tecnologia para melhorar efetivamente nossas condições de vida, ou mesmo evitar que elas se deteriorem ainda mais. De tal forma que, explica Fisher seguindo Badiou, “um anticapitalismo efetivo deve ser um rival do capital, não uma resposta reativa ao capitalismo.”[3].
O paradoxo surge quando, ao examinarmos os momentos mais esperançosos de Fisher, não se pode evitar de observar um certo otimismo paralelo à diversidade de movimentos e forças políticas que sugiram na esteira da crise econômica de 2008. Incorrendo em uma abstração um tanto injusta, pode-se afirmar que grande parte desse novo impulso político da década passada se situava contra o miserabilismo da Terceira Via social-democrata e o purismo extremista da esquerda marginal, ambos assentados em lados opostos do mesmo falso dilema entre capitalismo e terrorismo, talvez o mais pernicioso esquema ideológico do projeto neoliberal. Ao fim e ao cabo, o falecimento de Fisher assustadoramente coincide com o início da decadência e do recuo desse momento político. Nosso problema ao ler Fisher hoje em dia é que esse mundo não é mais o nosso. Nosso contexto atual, em que nos encontramos no auge da crescente popularização e divulgação da obra de Fisher em espanhol, coincide plenamente com a decadência e dissolução de grande parte desses movimentos políticos, de Bernie Sanders a Jeremy Corbin, passando pelo Syriza e o declínio do Podemos, com o aparente fechamento de um otimismo com o qual é impossível não contextualizar sua obra.
Seguindo essa linha, é pertinente perguntar por que Mark Fisher tem contado com tanto prestígio no mundo de língua espanhola nos últimos anos, justamente após sua morte. A maior parte das traduções e publicações de sua obra em nosso idioma vieram a luz nos últimos três ou quatro anos. E a questão se torna ainda mais conveniente se levarmos em conta que foi justamente nesse período de tempo que testemunhados o desmoronamento e a derrota de boa parte dos impulsos políticos em que Fisher havia concretizado suas esperanças nas poucas vezes em que lhe foi permitido fazê-lo. Ainda é muito cedo para julgar quais possibilidades foram deixadas em aberto após a década que está terminando, mas não há dúvida de que estamos, ou pelo menos assim o percebemos, em um momento de fechamento de oportunidade e exaustão de ação e imaginação política. E o que é ainda mais assustador: a crise de legitimidade das democracias liberais e o modelo neoliberal global podem ter alimentado os impulsos opostos da extrema direita e o atavismo etnonacionalista, desencadeados precisamente há quatros anos, após Brexit e a eleição de Donald Trump. A pergunta nos assombra como um fantasma: por que Fisher foi posto tão em voga agora? O que Fisher pode nos trazer neste contexto?
Uma primeira resposta possível é um tanto maliciosa, e tem a ver com o retorno da lógica do fracasso, em que a deterioração dessa oportunidade vem acompanhada de um olhar nostálgico sobre a abertura que tão dramaticamente desperdiçamos. Sem necessidade de ser profeta da desgraça, o risco de transformar Fisher no narrador melancólico de nossas esperanças recentemente frustradas não faria mais do que reconduzir sua leitura à uma lógica do fracasso e um fetichismo da derrota que ele rejeitou com tanta veemência. Fisher como arauto da década passada, a década perdida, eterno fantasma que nos recorda o que podíamos ter alcançado e o quão retumbantemente falhamos, ou pior: falhamos com ele.
Mas uma segunda resposta, e certamente a adequada, consiste em que faz pouca diferença quando ou por que um autor se torna popular, na medida em que sejamos capazes de nos livrar da tendência anquilosada de o reduzir ao seu contexto. Fisher seguirá sendo atual enquanto formos capazes de remontar e ajustar seus ensinamentos à nossa conjuntura política e histórica concreta com independência, isso é de suma importância, quer esta seja a nossa ou a de alguns anos mais tarde. Isso consistiria em animar uma certa consciência intempestiva da necessidade de passar por cima do tempo, e do aparente campo de possibilidades do real, de recuperar o impulso utópico do futurismo e da inovação para a esquerda, uma tarefa especialmente complexa quando estes termos estão tão fortemente associados com o tecno-utopismo delirante e à louca aceleração da circulação de lixo inútil. Eu me atreveria a dizer que essa é uma das suas lições mais importantes.
A última traição contra Fisher seria pensar que o tempo o matou, que suas esperanças se provaram infundadas porque o capitalismo, como todos sabem, sempre vence. Seria convertê-lo em um fantasma de sua hauntologia, na qual não necessariamente perdemos um momento histórico específico, mas caímos cúmplices no ambiente generalizado de perda e nostalgia, onde tudo o que se pode imaginar no futuro aparece sob o disfarce do passado, como Fisher recordava com suas críticas mordazes sobre Star Wars (George Lucas, 1977). Tudo o que se oriente para um mundo melhor é ingênuo, como talvez Fisher tenha sido ingênuo. Mas a verdade última, lembra-nos esse espírito miserabilista que nos persegue, é a mesma que a morte de Fisher: a derrota perante o tempo, a hora do lamento e do rancor.
Há uma passagem de Fisher que é impossível ler sem entender como uma sinistra premonição sobre sua própria morte, como se nos falasse do além sobre nossa relação com sua vida e sua obra: “A hauntologia pode então ser construída como um luto fracassado. Trata-se de se recusar a deixar o seu fantasma ir – o que as vezes é o mesmo –, a recusa do fantasma em nos abandonar. O espectro não permitirá que nos acomodemos nas satisfações medíocres que podemos colher em um mundo governado pelo realismo capitalista.”[4]. Aprender com Mark Fisher consiste em deixar seu fantasma ir, no sentido específico do vocábulo em inglês [“to give up”] que implica a abdicação de uma tarefa impossível ou de uma apropriação indébita de algo que em última instância não nos pertence, mas que não somos capazes de abandonar. Mas na hauntologia “não está em jogo o desaparecimento de um objeto particular. O que desapareceu é uma tendência, uma trajetória virtual.”[5]. Deixar Mark Fisher ir não é esquecer Mark Fisher, a necessidade de se tornar independente de uma leitura hauntológica de sua obra não é, nem de longe, abandonar qualquer leitura. É, pelo contrário, abandonar a interpretação vazia e inoperante que o coloca como o profeta terminal de nosso tempo, o último homem de um mundo já perdido e em ruínas cuja morte nada mais é do que o emblema da autodestruição do último movimento político que havia despertado nossa ilusão ou mesmo nosso próprio suicídio como espécie. Tendo em conta o panorama da desolação e da retração política atual, pareceria que nos sobram razões para entendê-lo assim, mas para negarmos essa aceitação pessimista seria suficiente compreender que nada novo pode sair dela.
Pelo contrário, hoje Mark Fisher é mais do que necessário como um primeiro passo, como uma plataforma de lançamento, como os lances de uma escada que pressagia melhores possibilidades, mundos melhores do que aqueles que o capitalismo nunca poderia nos oferecer. Sem dúvida, a tarefa que sempre guiou Fisher foi a necessidade de reconectar um panorama cultural sem alma com uma nova estratégia libidinal além do pobre sistema de mercado capitalista. “Se os intentos do modernismo popular de resolver o paradoxo do compromisso político e do prazer pelo consumo hoje parecem irremediavelmente ingênuos”, explicava ele, “isso é mais um testemunho das condições depressivas de nosso momento atual do que uma avaliação objetiva de nossas possibilidades”[6]. Somente uma tendência depressiva inútil poderia nos levar a concluir que Mark Fisher foi um ingênuo. O exercício indispensável de deixar seu fantasma ir consiste, antes de mais nada, em nos recordar que o ingênuo consiste em pensar que sua tarefa estava terminada. Mas ela apenas estava começando.
[1] Nick Land, “Crítica al miserabilismo trascendental,” en Aceleracionismo: Estrategias para una transición haca el postcapitalismo, ed. Armen Avanessian y Mauro Reiss (Buenos Aires: Caja Negra, 2017), p.67.
[2] Mark Fisher, “Terminator vs. Avatar,” en Cíborgs, zombis y quimeras: La cibercultura y las cibervanguardias, ed. Federico Fernández Giordano (Barcelona: Holobionte, 2020), p.72.
[3] Mark Fisher, Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?, (Buenos Aires: Caja Negra, 2016), p.118. [Edição brasileira: FISHER, Mark. Realismo capitalista: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? São Paulo: Autonomia Literária, 2020, p.131 – NT.]
[4] Mark Fisher, Los fantasmas de mi vida: Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos (Buenos Aires: Caja Negra, 2018), p.49.
[5] Ibid.
[6] Ibid., p.112.